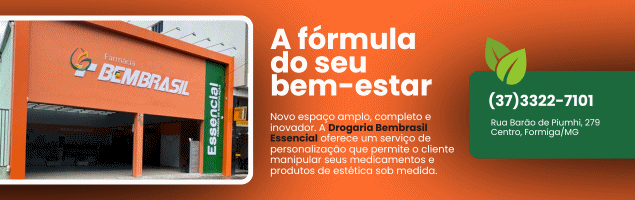A frase dita pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, no dia 24.11 — “os bancos são falíveis” — é uma constatação tardia. E, sobretudo, expõe um paradoxo: se a falência bancária é recorrente, previsível e historicamente documentada, por que o órgão responsável por prevenir esse desfecho limita-se a narrá-lo?
A derrocada do Banco Master não é exceção. É mais um capítulo de uma história que o sistema financeiro insiste em reescrever com a mesma tinta: promessas de rentabilidade fora da curva, aparência de segurança e um público disposto a acreditar.
Na década de 1980, o escândalo Coroa-Brastel já expunha a arquitetura do desastre: produtos financeiros sem lastro, confiança como moeda, rendimentos irreais travestidos de inovação e reguladores à distância. Naquele caso, o colapso gerou prejuízos para os aplicadores, sem nenhuma garantia. Hoje, existe o Fundo Garantidor de Créditos (FGC) — mas este apenas redistribui o dano. A falha continua a mesma: o sistema só reage depois do estrago.
A repetição histórica mostra que não estamos diante de acidentes esporádicos. Quebras bancárias se tornaram rotina — e justamente por serem rotina, são previsíveis. Por isto, se é sabido que bancos quebram, o que explica a recorrência de supervisões tardias, advertências tímidas e intervenções que chegam apenas quando o prejuízo se torna impossível de esconder?
E há um silêncio que torna o episódio ainda mais revelador. Agentes políticos e analistas econômicos frequentemente apontam déficits de estatais como sinal de incompetência, má gestão ou desperdício público. Mas quando um banco privado colapsa deixando uma conta prevista de mais de R$ 40 bilhões ao FGC — dinheiro usado para ressarcir investidores até o limite de R$ 250 mil — o debate desaparece. Não há indignação equivalente. A falha privada é absorvida, socializada, tratada como inevitável. A falha pública é politizada. Esse duplo padrão reforça a percepção de que o debate econômico não está ancorado em critérios técnicos.
O problema não está apenas nas instituições que assumem riscos excessivos. Está no desenho do próprio Banco Central: parte fiscalizador, parte garantidor da estabilidade sistêmica, parte interlocutor de interesses privados. A fronteira entre regulador e regulado se dissolve. O papel institucional, que deveria ser técnico e preventivo, se mistura com a lógica corporativa do setor financeiro de maximizar retorno.
Nesse cenário, a confiança se torna um ativo perigoso. Corretoras vendem risco como oportunidade, fundos aplicam sem questionar, investidores acreditam. E quando o colapso vai para quem acreditou que o sistema fosse sólido porque o regulador existia.
O episódio do Banco Master reforça uma normalização tóxica: bancos que operam no limite permanecem legitimados até o momento da queda.
Se os bancos são falíveis, como afirma o presidente do BC, o que está em debate não é a natureza do sistema financeiro — mas a função do órgão que deveria impedir que a falibilidade virasse método.